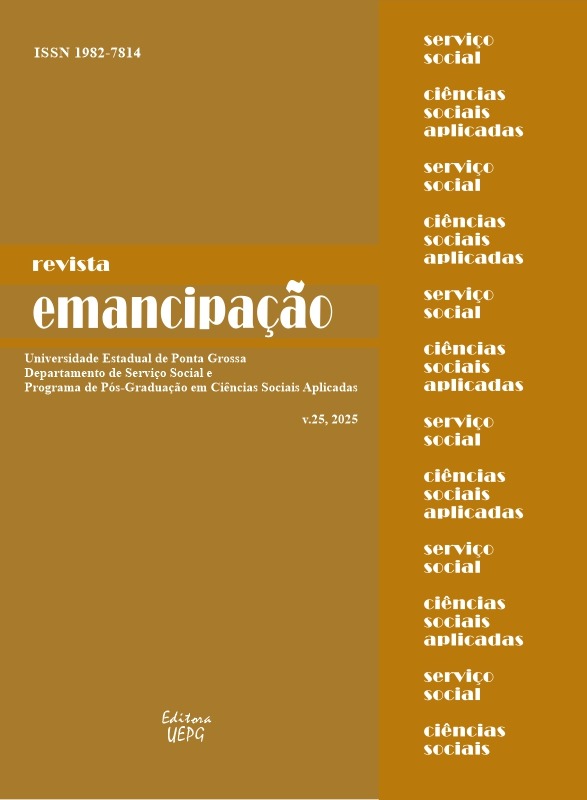As relações de poder nos discursos do saber: a popularização científica como dispositivo
Contenu principal de l'article
Résumé
O artigo discute o sistema de divulgação do conhecimento científicoacadêmico por meio de um panorama dialógico e emancipatório, debatendo fragilidades teóricas, como o enraizamento de pesquisas ao paradigma informacional e a designação de sujeitos não-especialistas como analfabetos científicos. Busca-se esse dialogismo ao revisar e embasar as vertentes conceituais de comunicação científica, divulgação científica e jornalismo científico como formações discursivas. Entende-se que elas são condicionadas à formação ideológica de vontade de saber, a qual é evidenciada através da percepção de que a ciência exerce um estado de dominação sobre o
senso comum na esfera dos saberes. Com isso, problematiza-se a noção de popularização científica, tomando-a como um dispositivo estratégico que auxilia o exercício das relações de poder no âmbito do saber científico por sujeitos não-especialistas. Sob a perspectiva dos desafios da materialidade das ações voltadas à popularização da ciência e tecnologia, apresenta-se as ações de inovação social do projeto de pesquisa de pós-doutorado desenvolvido pelos autores, que busca promover políticas públicas em popularização científica
com vistas a emancipar os atores sociais envolvidos.
Téléchargements
Renseignements sur l'article

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a) Os autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR) que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da sua autoria e publicação inicial nesta revista.
b) Esta revista proporciona acesso público a todo o seu conteúdo, uma vez que isso permite uma maior visibilidade e alcance dos artigos e resenhas publicados. Para maiores informações sobre esta abordagem, visite Public Knowledge Project, projeto que desenvolveu este sistema para melhorar a qualidade acadêmica e pública da pesquisa, distribuindo o OJS assim como outros softwares de apoio ao sistema de publicação de acesso público a fontes acadêmicas. Os nomes e endereços de e-mail neste site serão usados exclusivamente para os propósitos da revista, não estando disponíveis para outros fins.
This journal provides open any other party.
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR.

Références
ALBAGLI, S. Divulgação científica: informação cientifica para a cidadania? Ciência da informação, Brasília, v. 25, n. 3, p. 396-404, set./dez. 1996.
ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Loyola, 2013.
BAVA, S. C. Tecnologia social e desenvolvimento local. In: FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: ITS, 2004. p. 103-116.
BIGNETTI, L. P. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. Ciências Sociais Unisinos, v. 47, n. 1, p. 3-14, 2011.
BUENO, W. C. Jornalismo científico no Brasil: aspectos teóricos e práticos. ECA-USP: São Paulo, 1988.
BUENO, W. C. Jornalismo científico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; CALDAS, G.; BORTOLIERO, S. (Orgs.). Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável. São Paulo: All Print, 2009.
CALDAS, G. Comunicação pública da ciência. In: Enciclopédia INTERCOM de comunicação: vol. I - Conceitos. São Paulo: Intercom, 2010.
CALVO HERNANDO, M. Periodismo científico. Madrid: Paraninfo, 1977.
FLORES, N.; GOMES, I. M. A. M. O Público da Divulgação Científica no Paradigma da Cultura Participativa. In: Ação Midiática. Curitiba, n. 7, 2014. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/acaomidiatica/article/viewFile/35531/22893>. Acesso em: 30 nov. 2015.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. 7ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2013a.
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2013b.
FOUCAULT, M. Aulas sobre a vontade de saber. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. 20ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
FRANÇA, V. Louis Quére: dos modelos da comunicação. In: Revista Fronteiras - Estudos Midiáticos. São Leopoldo: Unisinos, v. 5, n. 2, dez. 2003, p. 38-51.
GERMANO, M. G.; KULESZA, W. A. Popularização da ciência: uma revisão conceitual. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 7-25, abr. 2007.
GOMES, C. M. Comunicação científica: alicerces, transformações e tendências. Covilhã: Livros LabCom, 2013.
GOMES, I. M. A. M. Revistas de divulgação científica: uma proposta de tipologia. In: XX Encontro da Compós, 2011, Porto Alegre. Anais... Brasília: Edufba/Compós, 2011. Disponível em: <http://www.compos.org.br/biblioteca.php>. Acesso em: 10 jul. 2015.
GRIPP, P. D. SILVEIRA. A. C. M. A ambivalência discursiva e representacional dos lugares de fala. Raled. Vol. 21 (1), 2021.
JAGER, S. Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de dispositivos. In: WODAK, R.; MEYER, M. Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003. p. 61-100.
KUHN, T. A Estrutura das revoluções científicas. 7ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
MAFFESOLI, M. Elogio da Razão Sensível. Petrópolis: Vozes, 1998.
MASSARANI, L. A divulgação científica no Rio de Janeiro: algumas reflexões sobre a década de 20. 1998. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação), Instituto Brasileiro de Informação em C&T, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998.
MOREIRA, I. C.; MASSARANI, L. Aspectos históricos da divulgação científica no Brasil. In: Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência/UFRJ, 2002, p. 43-64.
MOTTA-ROTH, D. Popularização da ciência como prática social e discursiva. In: Discursos de popularização da ciência. Santa Maria: PPGL, 2009, p. 130-195.
MOTTA-ROTH, D. Sistemas de gêneros e recontextualização da ciência na mídia eletrônica. Gragoata, Niterói, nº 28, p. 153-174, jan./jun. 2010.
PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 3ed. Campinas: Unicamp, 1997.
QUÉRÉ, L. D’un modèle épistemologique de la communication à un modèle praxéologique. In: Réseaux. Paris, v. 9, n. 46, 1991. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reso_0751-7971_1991_num_9_46_1832>. Acesso em: 08 jul. 2015.
RODRIGO ALSINA, M. ¿Pueden los periodistas no ser etnocéntricos? In: CONTRERAS, F. R.; SIERRA, F. C. (orgs). Culturas de guerra: medios de información y violencia simbólica. Madri: Cátedra, 2004.
VERGARA, M. R. Ensaio sobre o termo “vulgarização científica” no Brasil do século XIX. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 137-145, 2008.
ZAMBONI, L. M. S. Cientistas, jornalistas e a divulgação científica: subjetividade e heterogeneidade no discurso da divulgação científica. Campinas: Autores Associados, 2001.